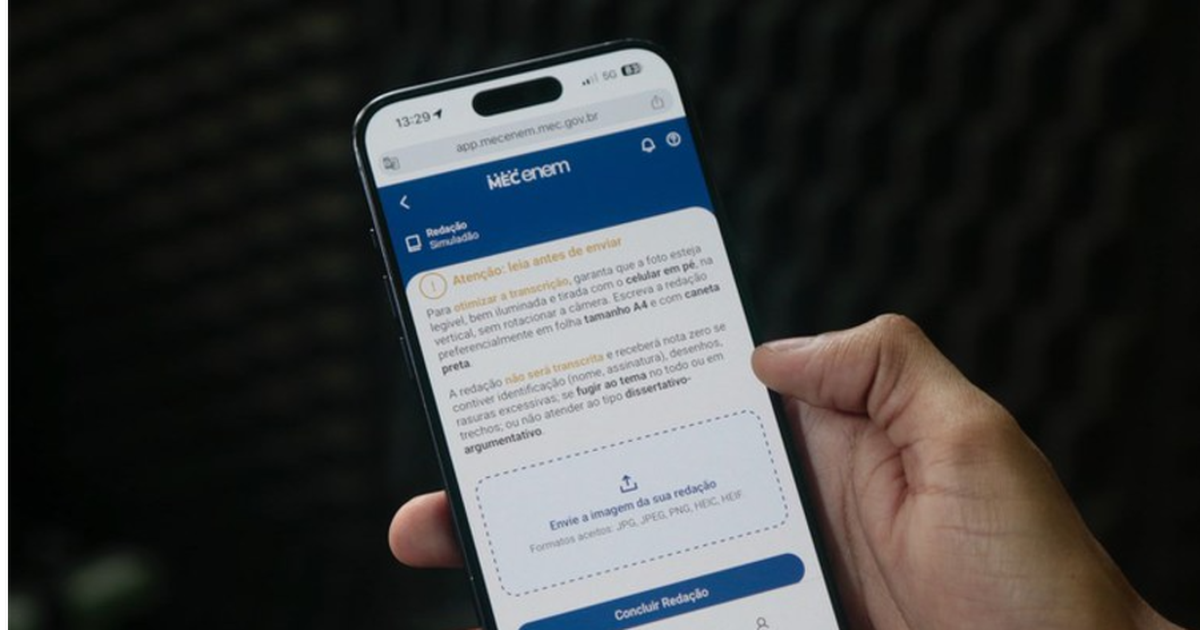O outro lado das soluções perfeitas de mobilidade urbana
No final do Século XIX o Brasil vivia um momento de otimismo dos governantes. A Monarquia acabara de ser derrubada e a República, inspirada pelos ideais positivistas de ordem e progresso, via a ciência e a técnica como ferramentas para reformar e modernizar a…
Quem já acompanhou as mudanças que cercam a mobilidade urbana sabe que o discurso do progresso costuma vir acompanhado de promessas bonitas: avenidas largas, parques, ciclovias e uma cidade para andar a pé, sem engarrafamentos. No entanto, a história mostra uma outra face dessas reformas: muitas vezes o preço não aparece nas fotografias bem produzidas. O foco central é a ideia de que melhorar a circulação é sinônimo de bem-estar para todos, mas a prática revela um padrão doloroso de deslocamento de problemas para quem menos pode pagar.
Essa narrativa ganhou corpo ao longo do tempo quando movimentos higienistas, fortemente influentes no século passado, passaram a vincular saúde pública com a reorganização física do espaço urbano. A lógica era direta: ambientes insalubres produzem pobreza, crime e doença; reformar a cidade seria, portanto, uma forma de reformar as próprias pessoas. E Paris, com as largas avenidas de Haussmann, tornou-se o modelo paradigmático desse pensamento. O que parecia uma lição de higiene urbana rapidamente se transformou em uma política de reorganização, com remoções em massa de cortiços para abrir passagem ao novo conceito de cidade respirável e ordenada.
No dia a dia de cada cidade, o que se vê é a busca por um urbanismo com cara de progresso, acompanhado de impactos sociais difíceis de entender apenas olhando para as imagens de mapas e obras inauguradas. A promessa de “cidade de 15 minutos” não se sustenta sozinha quando a população que depende do carro para o trabalho, os pequenos comércios e as cozinhas de entrega se veem sem opções reais de deslocamento ou de adaptação logística. E é justamente nesse ponto que a história ganha contornos universais: várias metrópoles, em diferentes continentes, implementaram intervenções radicais sem, antes, planejar um sistema público de transporte capaz de absorver a demanda e sem estabelecer proteções sociais suficientes para quem ficava de fora do novo pacto urbano.
Para entender esse mosaico, vale observar uma sequência de casos emblemáticos que se repetem sob formatos distintos. A explicação não está apenas na elegância das fotos, mas nas escolhas de implementação, no custo humano oculto e na forma como a elitte se acomoda ao centro, enquanto o resto da cidade vira cenário de deslocamento e adaptação constante.
Nesse panorama, o debate sobre o futuro da cidade se tornou necessário. Por um lado, muitos especialistas defendem a valorização de espaços mais caminháveis, menos poluídos e mais verdes. Por outro, surge a pergunta prática: quem paga a conta? Em que medida é possível reduzir o espaço destinado aos carros sem prejudicar quem depende deles para trabalhar, atender clientes ou manter atividades essenciais? No fim das contas, a resposta não está apenas na engenharia: envolve política, economia, habitação e redes de proteção social.
Para ilustrar esse dilema, reunimos dez experiências globais que costumam ser citadas em debates sobre mobilidade, urbanismo e equidade. Abaixo, apresento um resumo de cada caso, com seus acertos, seus choques com a realidade local e as lições que ele pode oferecer para quem acompanha a agenda urbana hoje.
- Barcelona e os “super blocos”: uma ideia simples e sedutora — nove quarteirões reunidos em um grande bloco, com tráfego desviado para as vias periféricas e ruas internas reservadas a pedestres e ciclistas. O que parecia um passo avançado para uma cidade mais humana trouxe, porém, efeitos colaterais como quedas no faturamento de comércios locais, dificuldades logísticas para entregas e aumento de preços de aluguel que pressionaram moradores de longa data. O fenômeno ficou conhecido como gentrificação verde, indicando a tensão entre desejabilidade do bairro e expulsão de quem já vivia ali.
- Paris e a “guerra aos carros”: desde 2014, a prefeitura cortou o acesso de carros ao centro, transformou avenidas importantes em parques e reduziu drasticamente vagas de estacionamento. Na prática, quem mora dentro da cidade e tem padrões de vida de elite notou benefícios visíveis na qualidade do ar e na mobilidade suave. O custo, porém, chegou ao conjunto da população que trabalha nos subúrbios — deslocamentos mais longos, maior dependência de transporte público caro ou ineficiente e, em muitos casos, aumento da desigualdade de acesso.
- Londres expandiu o ULEZ, zona de baixa emissão, para além do centro, incluindo restrições a veículos repetidamente mais velhos. A lógica é clara: menos poluição, ar mais limpo. Mas a lista de impactos não é pequena: para alguns profissionais que trabalham com logística, a cobrança representa parcela significativa do orçamento, e para comerciantes que atendem clientes de áreas fora da zona, os custos sobem ainda mais. O benefício ambiental é reconhecido, porém o debate sobre justiça espacial se mantém.
- Bruxelas — o plano Good Move quis redesenhar o centro para reduzir tráfego de passagem, mas a resposta popular foi de resistência e confusão, com vias congestionadas e críticos assegurando que a visão de tecnocratas não considerou as realidades locais. O resultado é uma lição importante: planejamento sem ampla participação pública tende a gerar resistência e consequências não intencionais no tempo.
- Madrid Central recebeu o mesmo tipo de impulso: uma zona de baixas emissões que restringia a circulação de carros, com mudanças subsequentes para o modelo Madrid 360, adaptando regras para hotéis, comércio e entregas. O relato aponta para um conflito entre o desejo de modernidade e a necessidade de manter acessível o centro para quem depende do carro para trabalhar ou fazer negócios.
- San Francisco tentou priorizar ônibus, bondes e pedestres na Market Street, banindo carros particulares na maior parte da via. O contrapeso foi imediato: as vias paralelas, não preparadas para o aumento repentino de tráfego, viraram gargalos de trânsito, com consequências para quem vive em áreas residenciais próximas. A rigidez do plano também gerou dificuldades para serviços de paratransit e para quem precisa de entregas rápidas no dia a dia.
- Seul derrubou um viaduto histórico para criar um parque linear, tentando devolver à cidade uma estética mais sustentável. A desejada melhoria ambiental esbarrou na pergunta: e os cerca de 160.000 carros que usavam aquela via diariamente? A resposta, segundo o debate urbanístico, envolve redistribuição de tráfego para vias periféricas, sem eliminar a dependência de automóvel por parte de muitos trabalhadores e pequenos comerciantes. A experiência aponta para a difícil equação entre beleza urbana e realidade econômica local.
- Estocolmo consolidou um pedágio de congestionamento para desestimular o tráfego na área central. Funciona, mas o custo é percebido como um privilégio para quem pode pagar para circular, enquanto trabalhadores de renda média ou baixa enfrentam encargos que impactam o custo de vida. Além disso, o sistema é amplamente automatizado, o que desperta debates sobre privacidade e controle estatal.
- Nova York investiu na agenda de ciclovias e na redução de espaço para veículos de entrega, criando tensões entre o objetivo público — mais segurança e menos mortes no trânsito — e a logística de quem depende do fluxo viário para manter lojas, restaurantes e serviços funcionando. O resultado é uma mistura de melhorias de mobilidade urbana com desafios para quem precisa distribuir mercadorias pela cidade.
- Curitiba, referência brasileira, difundiu as Ruas da Cidadania para descentralizar serviços municipais. Funcionou, em termos de acesso mais rápido a IPTU, saúde e assistência social, mas as melhores oportunidades de emprego ainda permanecem concentradas no eixo central e em áreas estruturais da cidade. O balanço, portanto, reforça a ideia de que a descentralização de serviços não é, por si só, uma solução para a desigualdade econômica.
Esses casos revelam um traço comum: intervenções abruptas, sem um plano robusto de transporte público para absorver a nova demanda, sem redes de proteção social eficazes e sem estratégias claras para manter a cidadania conectada aos serviços essenciais. A gentrificação aparece de forma reiterada, assim como a ideia de que o espaço central deve privilegiar quem pode pagar para morar nele. Enquanto a visão de cidades mais caminháveis e menos poluídas é desejável, a prática mostra que a eliminação de vias estratégicas nem sempre reduz o fluxo de carros; apenas o redistribui, deslocando o volume para outros bairros, com impactos diversos na qualidade de vida das comunidades mais vulneráveis.
Em resumo, o que se repete é um paradoxo: a cidade ideal para muitos parece aquela que reduz o conforto dos menos favorecidos. O discurso de melhoria contínua é válido, mas precisa vir acompanhado de planos concretos de transporte público em escala, políticas de habitação estáveis, mecanismos de proteção social, controle de aluguel e uma governança que inclua as vozes das pessoas que vivem e trabalham nos bairros periféricos. Do contrário, o resultado não será uma metropolis mais humana, e sim uma cidade cada vez mais segmentada, com áreas centrais atraentes e periferias cada vez mais distantes de oportunidades.
Os cortiços do passado nos ensinaram algo importante: não basta reformar a paisagem para que a vida das pessoas melhore. É preciso olhar para quem fica para trás, para quem depende do deslocamento diário para pagar as contas. E, no fim, manter a cidade como espaço de convivência e dignidade para todos, não apenas para quem pode pagar para morar e trabalhar no centro.
Você sabe do que estou falando?
Compartilhe este Artigo:

Jornalista especializada em lifestyle e decoração. Responsável por criar guias, tutoriais e reviews que realmente ajudam nas escolhas.